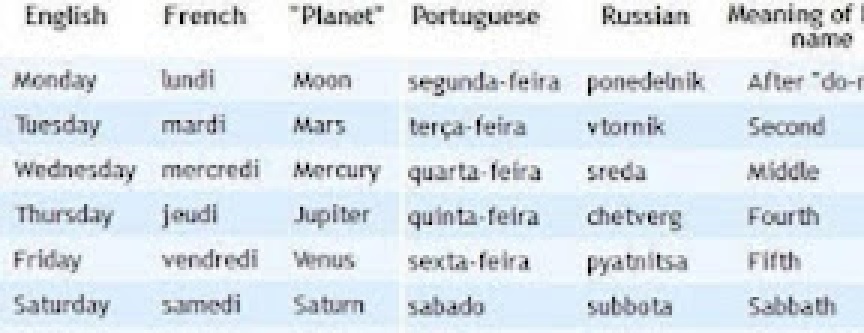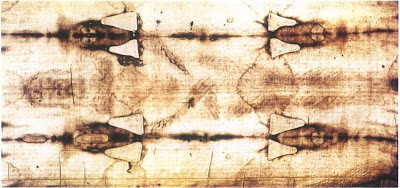Desde sempre o homem preocupou-se com o registo do tempo. Nesse registo, geralmente a cargo dos sacerdotes, constavam (na sucessão
dos dias que constituíam o que era considerado o ano consoante as concepções
astronómicas da época) as datas de natureza civil, religiosa ou agrícola sendo,
hoje em dia, denominado “calendário“ ou, mais raramente, “almanaque“.
O termo calendário vem do latim “calendarium“ que, para os
romanos, constituía um registo das dívidas a serem liquidadas nas calendas,
ou seja, no 1º dia de cada mês.
A designação almanaque julga-se provir do árabe
(“acção de contar”) e aplica-se ao registo no qual se indicam as
divisões do ano, os meses, as semanas, os dias, as fases da lua, as estações,
as festas religiosas, etc. Um quadro, com esta natureza, era designado pelos romanos não por “calendarium“
mas por “fasti“, porque nele se identificavam os dias “faste“
e “nefaste“ (permitidos/benéficos e proibidos/maléficos).
A opção dos Babilónios em
adoptar as fases da Lua como base do seu calendário condicionou durante séculos
o modo de registo do tempo.
Ainda hoje, o Islão continua a viver segundo o calendário lunar.
Não é por
acaso que o crescente figura na bandeira de um país muçulmano: a
lua, a lua nova, marca o começo
do Ramadão (9º mês) e marca a cadência regular do calendário, no qual os meses
são independentes das estações (o jejum do Ramadão ou a peregrinação a Meca
tanto pode calhar no verão como no inverno).
Os Egípcios foram os primeiros (há mais de 10.000 anos?) a definir a duração do ano solar. Em 4300 a.C. estabeleciam como ano civil o “ano do Nilo” e adoptaram um calendário constituído por um ano de 12 meses de 30 dias aos quais se deviam adicionar 5 dias. O erro do calendário egípcio era muito pequeno: as estações ocorreriam durante o mesmo mês durante um período de cerca de 1460 anos.
Os Egípcios foram os primeiros (há mais de 10.000 anos?) a definir a duração do ano solar. Em 4300 a.C. estabeleciam como ano civil o “ano do Nilo” e adoptaram um calendário constituído por um ano de 12 meses de 30 dias aos quais se deviam adicionar 5 dias. O erro do calendário egípcio era muito pequeno: as estações ocorreriam durante o mesmo mês durante um período de cerca de 1460 anos.
A designação ano manteve a sua justificação como unidade de medida uma vez
que, como “anel” (annulus em latim) do tempo, mede o ciclo sazonal da vegetação e dos
factores climáticos. A estrutura do ano ao longo da História variou de época para época, em cada
época de povo para povo e, inclusivamente, no mesmo povo de estado para estado
(como ocorreu na antiga Grécia).
Aristóteles calculou a duração do ano em 365, 25 dias e a do
mês em 29 dias e 499/940.
A estes valores (calculados em 335 a.C.) correspondem erros de 11,232 minutos
num ano e de 22,7 segundos num mês. É uma precisão notável.
Júlio César, em 46 a.C., recorrendo ao astrónomo Sosigenes, estabelece a duração do
ano em 365 dias e 6 horas, aumenta para 445 dias o ano de 47 a.C. (por isso designado o
“ano da confusão”) e introduz o ano
bissexto (de modo diferente do actualmente adoptado). O ano corrente
tinha uma duração de 365, 25 dias, enfermando de um erro de 11 minutos e 14 segundos.
César alterou a data de início do ano de 1 de Março para 1 de Janeiro.
O actual Calendário Gregoriano resulta de uma revisão do calendário
juliano, efectuada por ordem do papa Gregório XIII. Nesse ano de 1582
verificava-se, relativamente ao ano solar, um avanço de 10 a 11 dias resultante da sucessiva
acumulação do erro de 11 minutos e 14 segundos dos cálculos de Sosigenes.
A
mando do papa, o astrónomo Lélio reduziu em 10 dias o ano em curso, passando o
dia 5 de Outubro a ser 15 de Outubro. O ano
gregoriano tem uma duração de 365, 2425 dias e é, portanto, mais comprido 0, 0003
dias do que o “ano solar“. No futuro ano de 11582 o actual calendário terá mais 3 dias em relação ao
“calendário solar”.
Portugal e Espanha foram as primeiras nações que adoptaram de imediato o
calendário gregoriano (o dia seguinte a 4 de Outubro de 1582 foi 15 de Outubro,
mas só no século XVIII a reforma gregoriana foi adoptada pelos protestantes da
Alemanha, Suíça, Suécia e Inglaterra).
A identificação dos ciclos
naturais não dispensou o
homem da necessidade de pormenorizar a medida do tempo, que manifestamente se
revelava na alternância entre o dia e a
noite. Esta sucessão da luz e da
treva impôs-se, naturalmente, como a primeira unidade de medida do tempo.
No século IV, os
gregos fizeram a sua associação com o Sol, mas só em 1543, no meio de escândalo
e de polémica, Copérnico demonstrou a relação entre o movimento de rotação da
Terra e a ocorrência do dia e da noite. Pode dizer-se, sem exagero, que a Terra foi o primeiro relógio da
humanidade, relógio de grande e inultrapassável precisão.
No“Génesis“ lê-se: “As trevas
cobriam o abismo... Deus disse faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e
separou a luz das trevas. Deus chamou dia à luz e ás trevas, noite. Assim
surgiu a tarde e, em seguida, a manhã: foi o primeiro dia“.
De acordo com as Escrituras, o dia começa, portanto, com a noite.
A divisão do dia em horas (do latim hora que significa duração, parte do dia) deve-se, provavelmente, aos
caldeus e desde a antiguidade até hoje que é adoptado, na astronomia, o seu
sistema numérico de base 60.
A
hora foi, assim, dividida primeiro em 60 partes designadas por minutos (do
latim pars minuta prima) e, novamente, uma segunda vez em 60 partes
designadas segundos (do latim partes minutae secundae).
Como medida astronómica é duvidoso que o minuto, e muito menos o segundo,
tenha constituído, senão em recentes épocas, uma medida prática, dada a
inexistência de aparelhagem adequada a tal precisão.
No mundo
medieval, um intervalo de três horas canónicas dividiam as actuais 24 horas do
dia: de três em três horas, os sinos anunciavam matinas (meia-noite), laudas
(três da madrugada), prima (seis da manhã), tercia (três horas), sexta
(meio-dia), nona (três da tarde), vésperas (seis da tarde) e completas
(nove da noite).
Tal como foi considerada necessária a divisão do dia em partes mais
pequenas, igualmente se considerou vantajoso o agrupamento dos dias numa
unidade maior incluída no mês.
Esta divisão do mês variou de povo para povo, mas por razões de comodidade
será aqui adoptada a designação vinda do latim septimana (grupo de 7
dias), a semana (os gregos
e antes deles os egípcios e os chineses, contavam os dias por décadas).
Os romanos tinham uma muito
particular divisão em calendas, idos e nonas (respectivamente,
o 1.º dia da lua nova, o da lua cheia e o nono dia antes desta) e foi do Oriente
que se herdou, pelos hebreus e árabes, o sistema dos caldeus numa base de 7.
O imperador Augusto mandou adoptar para nomes dos dias da semana os
daqueles planetas, que se acreditava terem influência na 1.ª hora do dia e,
portanto, em todo o dia: Sol, Lunae, Martis, Mercurii, Jovis, Veneris,
Saturni, (dies). O 7.º dia da
semana, como o Saturni dies dos romanos ou o Shamash dos
babilónios, ou o Shabbat dos judeus, ou o nosso Sábado, manteve-se o “pivot“, o início da semana.
Em 321 da nossa era, o imperador Constantino, a conselho dos “Pais da
Igreja”, ordenou que o dia do Sol (dia de veneração do deus do Sol
pré-cristão, Mitra) passasse a ser o dia do Senhor: dies Dominica, o
nosso Domingo.
Data também dessa época a determinação oficial da Igreja de rejeitar a
designação pagã dos dias da semana e de seguir uma sua simples enumeração.
Os nomes pagãos e o seu significado mantiveram-se, até aos nossos dias, nos
países de língua latina e germânica. No entanto, nos países de influência da
igreja ortodoxa, como os de língua eslava e a Grécia, adoptam-se designações
numéricas: Pyat e Pyatnisa (5º e 6.º) na Rússia, Deutera,
Triti, Tetarti (2.º, 3º, 4º) na Grécia.
Paradoxalmente,
as nações cristãs que, num ou noutro momento da sua História, sofreram a
influência ou o poder religioso de Roma, não seguiram, a partir de uma dada
época, a determinação da Igreja, com a singular excepção de Portugal, não só no contexto da Europa Ocidental mas
também no da Península Ibérica.
A
semana cristã distinguia-se pela designação “feria“: Domenica (feria prima), feria secunda, feria tertia, feria quarta,
feria quinta, feria sexta. Que significa “feria“? Em latim clássico só existe o plural feriae com o significado de
“dias de descanso“.
Mas, por
que é que dos países da Europa Ocidental só Portugal e, também, no 1.º quartel
deste século, a Galiza, se manteve, até hoje, fiel a uma determinação da Igreja
que data do século IV da nossa era?
Mas a
influência da Igreja só se fez sentir em Portugal? E na mui vizinha e católica
Castela, não? O sistema cristão foi certamente seguido nas Espanhas, tendo sido substituído em época indeterminada pelo pagão (como
consta em documentos do século XIII) mas nunca
em Portugal “… onde não há
notícia, em documentos, de se haverem empregado algum dia nomes pagãos...”.
As
interrogações por responder mantêm-se.
Em
que época em Espanha e na Europa cristã se infringiu a determinação papal? Por quê? Por que razão Portugal e, também, a Galiza onde a língua era a mesma
(note-se que até 1931 “... en algús escritores… carta, quinta e sesta feira
súplena coas palabras mércoles, xoves, vernes. Voces, de xeito
inteiramente galego e conforme coa orixe latina...”) não foi seguida essa desobediência?